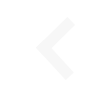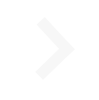O primeiro trampo foi de terno e gravata. Do dia para a noite, saí do short e chinelo para a roupa de doutor, estagiário num escritório de advocacia no Centro. O saudoso Mestre, porteiro do meu prédio da infância, mudou o tom ao me ver como um pai de família que paga prestações de um Corcel 73: deixou o surpreendentemente carinhoso “olha o respeito, moleque” para adotar o duro “boa noite, doutor”. Juro que não havia qualquer traço de ironia naquela declaração. Era um desejo sincero do Mestre me tratar como doutor.
Manuel, seu nome de batismo, deve ter sentido algum conforto ao reencontrar os velhos padrões hierárquicos com os quais foi forçado a lidar durante a vida. Era demais ser chamado de “mestre” o tempo todo por um grupo de moleques surfistas filhos dos patrões do prédio.
Mas ele era muito mais mestre que eu doutor. Entrei enfurecido no elevador. Olhei o espelho, vi um garoto de 18 anos escondendo pateticamente a sua alma de surfista atrás de um terno e gravata. Eu poderia enganar todo mundo, até desembargadores austeros. A mim mesmo, não.
Meu pai ficou orgulhoso, e não o culpo. Passou metade da vida vestido de terno atrás de uma mesa de escritório em Furnas. Assumia que não gostava daqueles trajes, mas se sacrificou para criar os filhos. E imaginava ser esse o único caminho: “Filho, você não sente prazer de terno, ao ver que as pessoas estão te respeitando mais que antes? Não é legal?”.
Foi a minha primeira incompatibilidade com a causa. Eu lembrei do Mestre, e não achava aquela exagerada deferência aos engravatados saudável. Ninguém é o que veste.
Eu sabia que meu pai vivia mais feliz quando metia um sungão, levava a tiracolo a indefectível bolsa de palha contendo uísque, isopor com gelo e café e passava horas na sauna do clube ou largado na areia da praia. De tamanco. Isso mesmo, num tamanco tipo japonês que ele encomendava num fundo de quintal em Cabo Frio. E que se danasse quem achasse aquilo esquisito. Esquisito era vestir terno o dia inteiro no verão do Rio de Janeiro.
Imagine o que pensava um moleque que tinha acabado de sair da água com uma prancha? Olhava para aquele traje e enxergava a burocracia do fórum, os escreventes e oficiais sedentos por um “preparo” para adiantar o processo, os colegas com olhar perdido e camisas sociais suadas por baixo de paletós encardidos. Tentava assobiar Eleanor Rigby para desopilar a cabeça, passeava pelos corredores do tribunal imaginando que a parede era uma onda.
Ao mesmo tempo, sabia que para crescer eu tinha que atropelar aquela bad trip. Aquele era o mundo real, e abandoná-lo significaria perder oportunidades. Perseverei por um ano até descobrir que o problema não era o terno, e sim o tesão. E já dizia o velho Roberto Freire, sem tesão, não há solução.
Avancei no curso de Direito – era muito bom para ser abandonado, sobretudo com bolsa – mas já de olho no jornalismo. Queria ser um contador de histórias. Antes do primeiro diploma, eu já era pago para surfar no mundo das palavras.
O surfista se sentia vivo na profissão de repórter. Cada dia, uma nova história, um novo lugar, uma nova onda. Eu podia até escrever sobre surfe. E não tinha traje obrigatório. Sentia-me mais elegante, mesmo quando eu tinha que usar terno – em coberturas de cerimônias importantes, ocasiões adequadas. Eu estava ali para contar histórias, não para ser doutor.
Assumi a condição de surfista nas firmas. Achei mais honesto, não precisei medir palavras para esconder de ninguém que sou um filho da cultura de praia. A honestidade me abriu portas. Tive a chance de escrever sobre o que os melhores faziam com pranchas. E a experiência do surfe fez com que eu ganhasse mais fôlego para tomar na cabeça e me recuperasse rápido.
Mas a firma é grande. Tem gente boa, gente preconceituosa. “Ah, mas ele é surfista…”, disse, certa vez, um idiota. Como preconceito é bandeira da ignorância, e a ignorância é mais fácil de ser percebida que a sabedoria, jamais me preocupei muito com isso. “Sou. E daí?”.
A maturidade torna o romantismo mais sereno. Contar histórias dentro de uma corporação pode às vezes não ser um bom negócio. Longe da redação, conheço advogados brilhantes que trabalham de terno e cumprem todo o ritual formal do Direito, mas não perderam nem por um instante o brilho nos olhos. E o mais importante: são todos surfistas de alma.
No fim das contas, só uma coisa importa: manter acesa a chama.
Tulio Brandão é repórter de O Globo, colunista do site Waves e da Fluir e autor do blog Surfe Deluxe