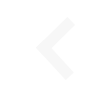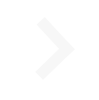Foi no fim dos 70, mais precisamente em 1979, quando decidi ir surfar no outro lado do mundo com o meu irmão Alberto. Eu estava com 19 anos de idade e o Alberto com 14 anos. O destino era uma longínqua ilha chamada Bali, num país remoto conhecido como Indonésia, numa época em que não existia o fax, a internet, o celular e nem uma telefonia decente.
Tudo começou depois de chegar às minhas mãos uma revista americana “Surfing”, por volta de 1977 ou 1978, que mostrava o surfista havaiano Gerry Lopez numa remota onda no oriente, nas bandas do Vietnã, chamada de Ulé, matéria intitulada “Scenes From The Paradise”, que documentava uma ilha paradisíaca, com visuais incríveis, um povo exótico e ondas de desenho de caderno com tubos para esquerda perfeitos e longos, água do mar da cor azul cintilante, num point que, para o surfista ingressar na onda, era obrigatório descer por escada de bambú numa exótica caverna por onde se acessava o pico. Isso era o “must do must”.
Aí, vinha a interrogação: onde poderia ser esse paraíso e como fazer para chegar a esse local tão distante e sem coordenadas? Eu não tinha a mínima noção, lembrando que naquela época não existia o Google e a internet para ajudar, apenas a Barsa ou a encyclopedia Britânica, ou as revistas de surfe que na época não entregavam o local. E foi na base do instinto e pesquisas que acabei descobrindo que essa onda estava numa pequena ilha chamada Bali e que se chamava Uluwatu.
Uma vez com algumas informações sobre o destino, procurei uma agência de viagens aqui de São Paulo, e eles, na agência, nunca tinham enviado alguém para essa tal de Bali, mas conseguiram agilizar nossas passagens e vistos, que previa uma temporada antes na Austrália, em Sidney, via Los Angeles, Califórnia. Com uma prancha cada um – o Alberto com uma Atlantic Coast 5’6” biquilha que eu shapei, e eu com uma prancha Costa Norte 5.7”, também biquilha -, fechamos as nossas malas, com mil dólares cada um, sem seguro de viagem ou algo do gênero.
Essa adrenalina pré surf trip que leva ao desconhecido é muito forte, e tudo ficou mais tranquilo quando entramos naquele voo da Pan Am rumo a Los Angeles. Uma vez bem acomodados no avião, em nossas cabeças todos pensamentos giravam em torno dos nossos destinos, Austrália e Indonésia. Lembro que no voo Los Angeles – Sidney estavam os surfistas cariocas Gustavo Kronig e Ianzinho, que se dirigiam para a Austrália para as competições em Gold Coast, e esse trecho foi muito longo.
Entre umas dormidas e outras, muitas vezes ficava observando o azul do Oceano Pacífico, que só foi quebrado quando começamos a sobrevoar a Grande Barreira de Coral, The Great Barrier Reefs, no norte da Austrália, com seus mais variados tons de azul, desde o clarinho ao escuro, devido à diferença de profundidade e tipos de fundos que variavam de coral a bancos de areia.
Ao chegar na terra de OZ, ficamos no estado de New South Wales, ou Nova Gales do Sul, onde surfamos ótimas ondas em Manly Beach, New Port, Queenscliff, Dee Why e Winki Pop (o de Manly), e pudemos conhecer o campeão mundial Barton Lynch ainda moleque e no início de sua carreira, e o surfista e pianista Kinsley Looker, local de Quennscliff Manly, outro surfista que se tornou de peso e top 16 anos mais tarde.
Tivemos acessos a incríveis surf shops, que deixavam a gente babando, mas, como a verba era pouca, apenas adquri um colete Rip Curl e uma prancha com base de troca na minha costa Norte, uma Cruzier 5’6”, modelo needle nose, uma tendência que ainda não havia chegado ao Brasil, onde as pranchas possuiam mais área no bico, obrigando o surfista a surfar com o pé na frente. Tive que reaprender a surfar, pois a needle nose não tinha área no bico, e a base do pé era mais para trás. Esse modelo de prancha chegou ao Brasil um ano e meio a dois anos depois, se não me engano com o Gary Linden.
Depois de uma ótima temporada australiana, onde fizemos bons amigos do Manly Surf Club, fomos em shows de australian music e aquecemos nossas turbinas nas boas ondas surfadas, partimos para Bali sem qualquer informação sobre o lugar, apenas que lá existia uma onda chamada Uluwatu e que a cultura local era bem exótica.
A nossa chegada a Bali foi deslumbrante, lembro bem que era uma tarde ensolarada, e do alto do avião, pude observar uma ilha muito tropical, com muito verde, um mar azul cheio de corais e com ondas quebrando, algumas aldeias inseridas nesse contexto, sonho dos sonhos, e foi uma conquista chegar ali e estávamos prestes a pousar.
Ao chegar ao pequeno e precário aeroporto, que lembrava o atual aeroporto de Nias, pude sentir, na saída do avião, aquele bafo de calor de uma ilha tropical. Logo na saída, fui abordado por um balinês que me deu boas vindas, pois eu usava uma camisa do Brasil de futebol e ele falava “Bagus, Brasil! Bagus, Brasil!” (Brasil bom). Depois de uma negociação, pegamos um táxi que estava ali estacionado e ele nos nos levou na casa de parentes, numa bucólica aldeia de praia chamada Kuta. Chegando na casa, que ficava a um quarteirão do famoso Bimo Corner, entendi que ali não tinha muitas opcões de hotelaria, mas gostei da família, descemos nossas bagagens e deixamos as malas e pranchas num pequeno quartinho nos fundos da casa, onde fiquei morando por 45 dias.
Uma vez alojados, saímos para dar uma volta a pé na aldeia, conhecer a praia e aproveitar para esticar o corpo e exercitar as pernas. Kuta possuía apenas algumas ruas asfaltadas e as restantes era de terra. Chegamos a ir até a praia de Kuta, e estava quase deserta e as ondas eram de beach break e não despertaram nossa atenção. Depois do reconhecimento, fomos alugar uma moto 125 cc, e na manhã do dia seguinte nos dirigimos a Denpasar, a capital de Bali, uma cidade caótica e barulhenta, para tirar a carteira de motorista de moto. Passei brilhantemente.
Logo que voltamos à nossa casa, pegamos as pranchas e apetrechos, e enfim, livres e prontos para descobrir onde estavam as ondas e onde seria a lendária Uluwatu. Partimos com tudo, com duas pranchas e o Alberto da garupa, no meio das aldeias e ruas de terra, tentando se comunicar com as pessoas que não falavam o inglês, e foi com muita dificuldade que conseguimos chegar a Nusa Doa, num lado da ilha paradisíaco, cheio de reefs de coral, água azul, com ondas que quebravam outside, predominantermente direitas.
Chegamos à praia e a nossa estreia não podia ser melhor: Sol, terral, 1,5 metro e opção de direitas e esquerdas. Optamos por surfar em Nusa Doa Left, um reef de outside com esquerdas muito perfeitas e tubos largos. Voamos nessa esquerda e a minha Crozier era muito veloz e segura.
Nessa época, Bali era praticamente desprovido de crowd de surfistas que se ajuntavam em Kuta Beach, e um pouco em Nusa Doa, Sanur e Canggu, e menos em Uluwatu, pois chegar lá era uma verdadeira epopeia, pois de Kuta se gastava no mínimo uma hora de moto até o templo de Uluwatu, onde as motos deviam ficar estacionadas, para em seguida iniciar uma caminhada de 40 minutos, ou mais, por uma trilha que seguia sobre os penhascos e nos obrigava a pular várias cercas de fazendas, driblar bois nervosos e observar macacos, até chegar à lendária onda conhecida na época como Ulé.
Havia apenas dois velhos warungs (cabana de palha) no pico e ondas solitárias. De vez em quando apareciam alguns australianos na água. Em nossa primeira ida a Uluwatu, com ondas surfáveis e vento terral, pudemos enfim descer na majestosa e sinistra caverna por uma escada de bambú, que terminava do saguão dessa caverna, que era o ponto de contato com as água do mar.
Na matéria da Surfing, uma imagem me impressionou. Era de um surfista gravemente acidentado nos corais, sendo levado carregado por essa escada. Com o coração na boca de tanta emoção e adrenalina, afinal era naquele mesmo local em que Peter Mccabe, Gerry Lopez e Rory Russell estiveram, estávamos nós ali, não mais sonhando, mas vivendo na carne, prontos para se lançar numa das melhores ondas do planeta, num dia de sol em que as águas dentro da caverna reluziam e as ondas quebravam de forma espetacular no outside corner.
Bom lembrar que “pedra do sul” é a tradução de Uluwatu, e o templo foi construído em homenagem a uma tribo que foi emboscada por outra no alto dos penhascos, e para não serem capturados, todos se suicidaram em massa, diz a lenda. Surfar ali, nessa época, era mais que um simples surfe, era pegar ondas num lugar geograficamente espetacular e com uma história estarrecedora.
O retorno de Uluwatu para Kuta era uma outra epopeia, pois, cansados, tudo era mais difícil. Lembro de uma vez que, de tanto surfar e olhando o brilho do sol no mar (ali o sol se põe na cara), voltei completamente cego e saindo pus das vistas. Andei tudo aquilo pulando as cercas das fazendas, e não sei até hoje como consegui dirigir uma moto à noite, sem ver quase nada, com um irmão de 14 anos na garupa segurando as duas pranchas.
Já no quarto, cego, entrei em pânico e comecei a esmurrar as paredes, e ainda por cima tropecei nas pranchas e caí no chão. O meu irmão conseguiu com os vizinhos remédios para dormir sem os quais eu não poderia descansar. A sorte foi que havia um casal ao lado e a mulher era enfermeira na Nova Zelândia e tinha remédios à base de cortisona contra infecção de vistas, e com o uso pude me reabilitar e voltar a enxergar direito depois de três dias no quarto. Peguei essa infecção do ar, por dirigir a moto sem óculos. A minha vista só foi curar de verdade no Brasil.
Todo dia de surfe em Bali era muito desgastante, pelo calor e pela falta de estrutura local para comer e beber quando se saía de Kuta. Porém, a volta era sempre bem recompensadora, ou melhor, restauradora, pois podíamos tomar um banho frio ao chegar em casa, colocar um sarong balinês, ouvir num toca-fitas – que troquei por uma calça – o som de Eric Clapton, que tocou todos os dias, e depois sair para comer a pé pelas escuras ruas do povoado. Sempre íamos no restaurante Dayu II, do amigo Oka, comer um prato quente que repetimos em toda a temporada: chicken cahsnuts, suco de papaya e garlic bread. Depois da jantar, só nos restava dormir, sonhar, e sonhar, para acordar para mais um dia de surfe, com o mesmo café da manhã que se repetiu por 45 dias: uma banana, um sanduíche de banana e chá.
Depois de uma semana em Kuta, o nosso estado de espírito era outro. Tínhamos emagrecido bem, estávamos mais cansados, mas felizes e empolgados, tanto por causa das ondas espetaculares como pela cultura local, das danças Barong e Legong que nos hipnotizavam, teatros de sombras que assistíamos com os aldeões, músicas primitivas em aldeias, tudo em cerimônias locais e não para turistas, como acontece hoje em dia.
Era um bucolismo sem igual, expresso nos costumes simples e elegantes nas remotas aldeias e seus personagens tribais, pelo vestuário colorido e exótico, e também pela natureza exuberante – as matas com árvores centenárias, os coqueirais gigantes nas orlas das praias, os arrozais cinematográficos com seus terraços, os vulcões e templos, e uma infinidade de cheiros emanados pelo variados incensos, flores, e dos cigarros de cravo Gudang Garam, e por fim, os majestosos pores do sol, sempre no mar, cada dia um espetáculo de cores variadas e vibrantes, e ainda por cima com poucos turistas nas areias.
A natureza, como disse, tomava conta, e para se ter uma ideia, a Legian Road, hoje muito conhecida por seus bares, lojas e hotéis e prostituição, era nessa época nada mais do que uma selva com povoados nativos. A road era apenas uma estradinha de terra no meio da selva, com suas travessas ou picadas que sumiam na mata. Uma vez me embrenhei de noite na selva, à procura de uma boate chamada Rumble Jungle. Era muito esquisito dirigir naquela escuridão no meio da floresta, entre aldeias primitivas, e de repente chegar a um local cheio de malucos europeus e surfistas australianos tomando umas brejas e dançando no meio da selva ao som de “Cocaine”, de Eric Clapton.
A ilha era tão tribal que hoje penso comigo mesmo, em última análise, que estávamos ali invadindo uma cultura ancestral com nossos “modus viventes” ocidental. Para mim, um moleque de 19 anos, e meu irmão de 14, viver aquilo foi como estar dentro de um um filme do Laos, Camboja ou Vietnã, só que sem a guerra. Cada dia naquela ilha era uma nova aventura, seja para um simples surfe em Kuta ou para explorar o interior da ilha e suas aldeias, templos e paisagens, em paragens que os turistas não aventuravam normalmente.
Dentro das nossas explorações, fomos de moto até Medewi, uma esquerda perfeita com fundo de pedra redonda a uns 100 quilômetros de Kuta, onde pudemos pegar altas ondas. Nesse pico, ao sair do mar, me defrontei com a minha moto rodeada por nativos que não falavam nem o Inglês e que não haviam ainda visto uma prancha de surfe. Fomos também surfar em Canggu no dia do ano novo deles, que são Hindu-Budistas, onde pudemos presenciar todos os povos do interior chegando nas praias com suas oferendas. Exploramos também, já no interior, uma remota aldeia localizada dentro da cratera do Vulcão Kintamani, a quase 2000 metros de altitude, onde existe um enorme lago. Conseguimos uma canoa e fomos remando por três longas horas, sob uma neblina, até um povoado onde as pessoas mortas não eram enterradas e sim colocadas sobre a terra como oferenda aos deuses. Chegamos nesse local sob muita tensão, acompanhados por alguns nativos mal encarados, e pudemos observar corpos dentro de gaiolas de bambu, alguns recentes, com a pele preta grudada nos ossos e ainda com a roupa, e outros antigos, apenas os esqueletos. Ao tentar tirar uma foto, o meu irmão quase foi agredido e tivemos que sair dali às pressas.
Em muitas picadas que eu entrava com a moto, sempre encontrava alguma aldeia, e por incrível que pareça, alguns velhos me abordavam, e em Inglês perguntavam: “Where do you from?” Eu respondia “Brasil”, e os mesmos falavam “Pelé”. Incrível como eles sabiam do Pelé e um pouco de Inglês, se nesses lugares não havia energia elétrica e nem televisão.
Voltando ao surfe, como o vento em Bali sopra de Trade Wind, numa época sopra em uma direção e em outra época soprava em uma outra direção, tivemos a sorte de usufruir dos dois ventos e surfar dos dois lados da ilha. Quando estava terral em Uluwatu, Kuta Reef e Padang, era maral nas ondas do lado oposto, em geral direitas, e vice-versa. Quando soprava maral em Kuta, sabíamos que o nosso destino era o lado de Sanur.
Surfamos ondas incríveis em Nusa Doa Left e Nusa Doa Right inside e outside, na praia ao lado que chamamos de Cogumas Point por causa de uma formação rochosa que ficava no meio do caminho da direita e que parecia um cogumelo, e na outra praia ao lado, num pico de direita que quebrava na borda de um canal, que os locais chamavam de Sri Lanka. Hoje, nessas praias, estão grandes hotéis que recebem turistas do mundo inteiro, como um Cancún de Bali, mas nessa época era totalmente deserto e com alguns poucos surfistas que apareciam em Nusa Doa. Um pequeno warung na frente servia um suco de papaya e omelets.
Nos dias que se sucediam, conhecemos dois cariocas, o Oscar Janequine e um amigo – senão me engano era o Beto -, e um paulista que surfava o Guarujá, o Avi. Encontrar brasileiros nessa parte do mundo e naquela época era muito raro, o que nos aproximou muito e ficamos bem amigos. Todas as noites nos encontrávamos no restaurant Dayu II para jantar e atualizar as aventuras que cada um viveu naquele dia, pois cada dia era uma aventura.
Vivemos incríveis momentos ali, inclusive fomos juntos surfar numa ilha chamada Nusa Lembongan, um paraíso tropical com ondas perfeitas. Havia apenas um pequeno alojamento para ficar e passamos dois dias incríveis. Foi doído e eletrizante num fim de tarde jogar bola com os nativos, numa areia de pedras de coral quebrados, e os nativos não usavam nem tênis e eu tentei imitar. O meu pé doía tanto ao chutar pedras de coral, mas foi muito divertido!
A praia era cheio de conchas Shell gigantes largadas, conchas que poderiam envolver uma criança, mas que infelizmente foram todas exploradas e vendidas anos depois. Havia ondas para a esquerda e direita nos reefs de frente à praia. Surfamos boas ondas ali sem crowd algum. Da ilha, avistávamos os grandes vulcões de Bali e um por do sol indescritível.
Depois de um longo tempo junto com o meu irmão, ele teve de ir embora ao Brasil. Eu resolvi ficar mais um tempo e estendi o meu visto. Lembro-me como se fosse hoje, eu levando aquele garoto de 14 anos ao aeroporto de Bali e o enviando ao Brasil. No aeroporto eu dei todas as instruções necessárias de como agir no Japão, de como ingressar no voo aos EUA, das conexões Los Angeles a Miami, depois Galeão e, enfim, Congonhas. Despachei o garoto com apenas 14 anos de volta ao Brasil, e ao sair com a moto na escuridão, voltando para a casa, ouvi e vi o avião voando e me deu um aperto no coração, uma pela falta que ele iria fazer e outra pelo risco de mandar um garoto só ao Brasil daquele lugar do mundo. Eu só fui saber se ele chegou, e bem, uns 15 dias depois, quando liguei para a minha família na volta do Japão. Fiquei 45 dias sem falar com o pessoal de casa pela dificuldade que existia em ligar ao Brasil, completamente isolado.
Uma vez sozinho em Bali, mudei um pouco meus costumes de dormir cedo e passei conhecer uma outra ilha. Na época, Bali era o destino dos loucos europeus, era onde malucos iam motivados a fazer uma viagem exótica movida a drogas e álcool. Um país onde as leis anti drogas não eram tão rigorosas como são hoje, e que cogumelos azuis, os blue minis, cultivados no estrume das vacas “sagradas”, eram vendidos em restaurantes sem luz elétrica, como pratos exóticos. No Made Warung, um bar que ficava a um quarteirão do Bimo Corner, era o local de encontro de tudo quanto é tipo de gente maluca do mundo. Ali, no Made Warung, diz a lenda que estiveram comendo no ano anterior os Rollings Stones, que de certa forma deu o start a esse turismo crazy.
Depois de uma temporada incrível em Bali, tive que retornar ao Brasil e entrei naquele aeroporto minúsculo rumo ao Japão, bem diferente de quando cheguei, seja na forma de pensar ou fisicamente. Eu estava com um cabelo louro até os ombros, uns 8kg mais magro, uma infecção no olho que não cessava, carregando alguns parasitas orientais no estômago que foram se manifestar no Brasil, e uma camisa florida, uma bolsa feita de saco de arroz, com apenas 60 dólares no bolso e sem cartão de crédito. Era tudo o que eu tinha.
Essa temporada em Bali foi muito mais que uma simples viagem de surfe. Foi uma experiência de vida, um aprendizado que guardo como uma universidade da vida. Conhecemos bons amigos, como o australiano Brad, que perdemos contato; o sueco Thomas, que foi ao Kintamani com a gente e anos mais tarde nos visitou no Brasil; o carioca Oscar e o paulista Avi.
Vivemos uma experiência sem igual, inseridos no dia a dia da ilha, participando com espectadores de teatros e danças nas aldeias semi primitivas ao redor de Kuta e em aldeias mais isoladas e primitivas no centro da ilha, vivenciando uma cultura que ainda era tribal 20 anos antes da nossa ida, uma cultura cheia de beleza, um povo alegre e pacífico.
Quanto ao surfe, pudemos surfar ondas de verdade, pegar tubos de verdade, sem crowd e sem aborrecimentos. Pudemos ainda conhecer paisagens estarrecedoras, tanto de praia como de montanhas, sentir a liberdade total, a liberdade que o surfe sempre me proporcionou, pois só mesmo a busca pelas ondas nos motiva a sair das nossas casas e nos isolar literalmente numa ilha do outro lado do mundo e sem conforto por 45 dias e longe de tudo.