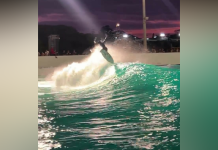Maldivas 1995
Sim, eu era louco. Tão louco que não sabia quem eu era e muito menos para onde ia. Deixava o vento me levar. Às vezes, as ondas. As pequenas ilhas maldivenses tinham um fim visível e azul por entre as casas. Eu não. Os sorrisos das crianças que saiam da escola brilhavam tanto quanto o sol, mas diferente. Seus dentes brancos conchas abertas. Estavam estranhamente uniformizadas naquele cenário de mágica realidade, areia granulada com pedaços de mariscos e algas, coqueiros encurvados e nuvens incansáveis. Pequenos rostos morenos emoldurados pela vida. Eu corria atrás delas enquanto se escondiam atrás dos muros, rindo, atrás umas das outras, num pandemônio alegre e caótico. O mormaço permeava os sentidos e as lembranças recentes de ondas azuis e verdes que, com um menear de suas cabeças brancas anunciavam quando iam quebrar, em que sentido, a que temperatura, e até onde poderíamos segui-las. Sigo-as há décadas, nunca me dizem onde vão. Os corais tinham um cheiro vivo. O vento levava a areia para o mar por entre as choupanas de palha, formando pequenos e frágeis montes na frente das portas, e mais além, tentando aumentar a ilha, compensando a invasão do mar. As Maldivas têm profundidades abissais e uma superfície frágil. Eu, Teixeira, Magoo, Thyola e Fábinho. Os cinco que surfaram, mergulharam e viveram por duas semanas numa dimensão possível, mas improvável. Tubarão-baleia, cerveja, enjoo, êxtase, pôr-do-sol do além, leveza e pânico a trinta metros de profundidade, recuperação dos sentidos, o encontro de um sentido. Fomos contratados pelo hotel para entreter os convidados em troca de um desconto substancial na diária. Demos tanta alegria, música, dança e coração durante tantos dias que no final talvez não devêssemos ficar surpreendidos com o retorno tsunâmico dessa energia: uma onda de felicidade que até hoje nos alcança e, de certa forma, nos define. Na nossa saída toda a ilha parou. O staff saiu da cozinha, do restaurante, dos quartos, do escritório do Chef de Village – inclusive o próprio, da pista de dança e foram todos, rindo, cantando e nos zoando, despedir-se de nós, no pequeno cais, enquanto a noite caía lenta, e mais lenta ainda, porque não queríamos que passasse. Outro eu viveu naquelas ilhas naquele tempo. Alguém que eu reconheço. Alguém que me é querido, e que, muitíssimas vezes, por aqui, eu desconheço. Não, eu não era louco. Talvez devesse ter sido, faria mais sentido.
Singapura 1981
Uma parada no país mais limpo, civilizado, antisséptico e ocidental do Oriente. Pedi orientação para o pernoite e me indicaram uma pensão em Bencollen Street. Foi aí que eu parei. Por aí já dá para perceber que os fantasmas ingleses ainda dão o nome às ruas e seus hábitos permeiam costumes e trajes. A alma, no entanto, é asiática. Saí para o mercado municipal, sempre o melhor indicador do caráter de um povo, e respirei aliviado com a gritaria, com as frutas que eu nunca tido visto ou ouvido falar, do corre-corre entre as barracas, dos olhos rasgados que me fitavam através de eras, da multidão que se aglomerava para vender, comprar, comer. O meu quarto na pensão de Bencollen era dividido com mais seis caras. Deixei o violão meio relutantemente ao lado da cama juntamente com o resto da minha (pouca) tralha, coloquei o passaporte e a grana no armário do corredor, à chave, e saí. A sensação de botar o pé na rua de um lugar totalmente desconhecido sempre me empolgou. É como se eu atravessasse um portal de conhecimento em busca de algo que me complete. Um amor que não cabe em si. Singapura era pequena demais para absorvê-lo. Os prédios altos de aço e vidro contrastavam com eles mesmos. Contrastavam com o passado. O céu perfurado chorava saudades desse passado sem rosto. Voltei para o meu quarto ao escurecer, com as luzes dos postes e prédios piscando no esforço de acenderem. Tudo intacto nas minhas posses, com uma exceção: todos os adesivos dos países em que eu havia estado durante essa volta ao mundo, e que estavam na capa do meu violão, foram roubados – ou emprestados compulsoriamente, diria o eufemismo. O violão estava lá, a minha mochila também, com tudo dentro. Os adesivos de Bali, Sri Lanka, Índia, etc – nem lembro mais quais -, no entanto, haviam sumido. Menos puto que curioso, constatei que a escala de valores dos meus companheiros de quarto diferenciava substancialmente dos larápios comuns. Fazia sentido: o que viajantes mais curtem? Exotismo e diferentes paisagens. Souvenirs que constatem onde pisaram, ou onde sonharam. E os meus (preciosos) adesivos eram como ouro em pó malagueta nesse universo. Não gostei, mas não pude culpá-los, apenas fiquei imaginando o rosto, a motivação e o prazer estampado de quem os levaram. Lá fora, já noite, as buzinas emudeceram ao mesmo tempo, como uma onda de pensamento que para no ar. Tive que sorrir.
Sidão Tenucci é escritor e diretor de marketing da OP (Ocean Pacific). Publicou o livro Almaquatica (Fnac), em parceria com o fotógrafo Klaus Mitteldorf e o designer gráfico David Carson, e o livro de aventuras zen “O Surfista Peregrino” (Livraria Cultura). Lançará em outubro o seu terceiro trabalho, “Poentes de Amor”, ilustrado por 55 artistas plásticos. Viajou por 52 países, imagens e portais.